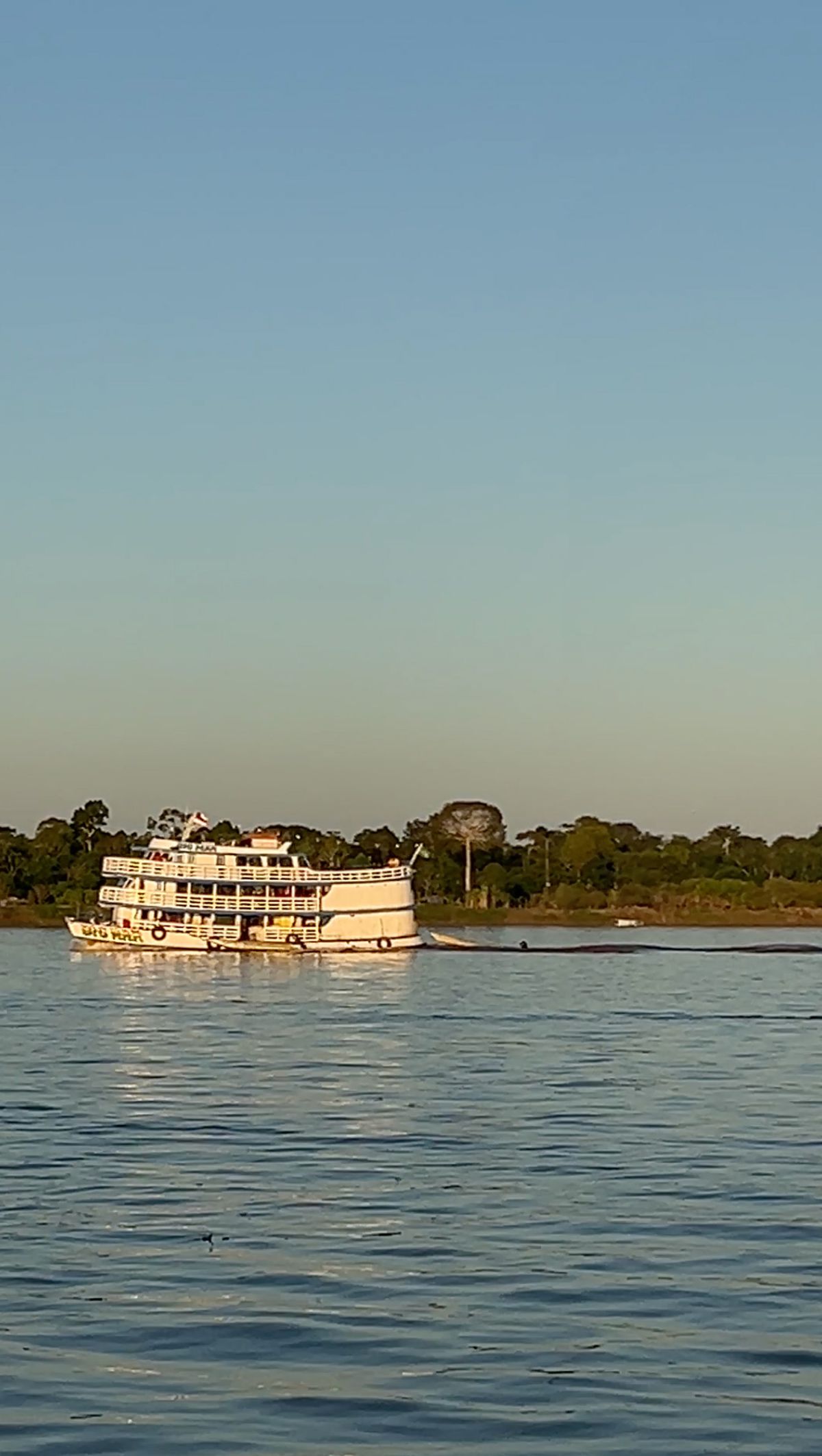Construíndo uma Floresta
No exercício da observação. Texto de Noelia Monteiro
A observação é uma prática que aproxima arquitetura e pesquisa. Na arquitetura, ela conecta a construção do espaço habitado às práticas cotidianas e ao conhecimento técnico que o sustentam; na pesquisa, torna-se um método para revelar como essas práticas e técnicas geram novas possibilidades de projeto. Na Amazônia, a região mais biodiversa do planeta, a observação revela como o patrimônio espacial dos desenhos paisagísticos indígenas continua a moldar e proteger as bordas frágeis da floresta, oferecendo lições valiosas para futuros projetos que busquem cuidar tanto das pessoas quanto do meio ambiente.
Com o Estúdio Flume, cheguei ao município de Apuí, no estado do Amazonas, em 15 de junho de 2025, após uma extensa viagem de doze horas a partir de Porto Velho, capital de Rondônia. A jornada, adiada desde março devido às fortes chuvas que bloquearam o acesso por estrada, foi possível desta vez graças a duas travessias de balsa: primeiro sobre o Rio Madeira, depois sobre o Rio Aripuanã. A estrada se estendia entre áreas de floresta e clareiras abertas, como se já anunciasse a complexa condição agrícola que marca esse território. Chegamos a Apuí para iniciar o projeto do Centro de Agrofloresta e Observatório da Floresta, uma iniciativa que busca valorizar e fortalecer práticas locais de cuidado com a terra, fruto de anos de sonho, trabalho e pesquisa.
Ao longo do século XX, a Amazônia foi transformada de uma economia baseada no extrativismo local de baixo impacto para outra centrada na agricultura em larga escala, na pecuária e no agronegócio - uma transição impulsionada por programas nacionais com a abertura da Rodovia Transamazônica no início da década de 1970, durante a ditadura militar no Brasil. O impacto dessa transformação pode ser sentido no município de Apuí, e nossa viagem até lá foi uma profunda imersão que revelou tanto o potencial quanto as contradições da região. Durante nossa estadia, a observação se expandiu para além da paisagem e da floresta, alcançando também as vozes das pessoas que habitam Apuí. Tornou-se evidente que grandes porções da floresta amazônica não são naturais, mas culturais.
O texto a seguir apresenta uma coletânea de reflexões reunidas por meio de entrevistas com a comunidade que vive ao longo do Rio Juma, cada uma contribuindo à sua maneira para o complexo sistema social e cultural da região. Essas narrativas e experiências nos ensinam não apenas sobre a força da organização comunitária para o desenvolvimento agrícola, mas também sobre os desafios enfrentados pela floresta e pelo solo, destacando a importância dos saberes locais e das práticas sustentáveis para preservar e renovar esse território vital. Em mais de quarenta anos habitando a região, essas famílias criaram raízes, amizades e histórias que atravessam gerações. Essa capacidade de observar, de aprender ao longo do caminho e de se organizar coletivamente está no cerne dos nossos esforços na criação do Centro Agroflorestal e Observatório da Floresta. A experiência e a resiliência daqueles que vivem na floresta são também a chave para sua preservação.
Antônio é um agricultor que migrou do sul do Brasil na década de 1980, depois de ouvir no rádio, em Francisco Beltrão, Paraná, o chamado do governo para ocupar a Amazônia. Na época, programas como a Operação Amazônia e o Programa de Integração Nacional incentivavam a migração para o norte do país, oferecendo terras férteis e a ideia de uma fronteira agrícola próspera. O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) fornecia um metro e meio cúbico de tábuas e um metro cúbico de madeira, além de cinquenta telhas e vinte quilos de pregos, para que as famílias pudessem construir em lotes de cem hectares destinados ao cultivo de alimentos.
Lúcia chegou um pouco antes. Sua memória é marcada pelo impacto visual da estrada: “Tanto mato, tanto mato. A estrada parecia um túnel; não parecia estrada. Era bonita embaixo, mas fechada em cima. Por sorte, nos deram uma casinha para morar até conseguirmos a nossa.” Naquele tempo, as condições de vida eram precárias, e adaptar-se ao ambiente exigia grande resiliência. Foram necessários dezessete dias de viagem em um caminhão de mudanças até chegar lá. O que mais chama a atenção em seu relato, porém, é a força da organização comunitária que se seguiu. Com a criação de uma associação para a produção do coco, os moradores conseguiram obter os materiais de que precisavam para ter sucesso no plantio: “Eram todos produtores que queriam trabalhar, mas não tinham máquina, nem caminhão, nem secador, nada. Através da associação e do banco, conseguimos tudo isso.”
Em nossa conversa com Leoni, que também chegou a Apuí junto a Antônio há mais de quarenta anos, ela relembrou um momento de sua jornada, exausta de sede após dias viajando de caminhão, recorda-se de ter visto Lúcia varrendo a rua quando entraram no que então era apenas uma pequena vila. Cansada do calor e da longa viagem, Lúcia ofereceu água e hospitalidade a Leoni e sua família, e desde então as duas mantêm amizade. Apesar da generosidade, as condições eram duras, e as crianças estavam expostas a doenças como a malária. Naquele tempo, não havia infraestrutura de saúde, apenas um serviço médico itinerante, que atendia principalmente os trabalhadores dos projetos de infraestrutura, como as estradas que começavam a abrir caminhos pela floresta. Ela recorda as dificuldades para conseguir a terra em que viveriam e o esforço coletivo para construir suas casas com os poucos recursos que tinham.
A segunda geração que chegou ao assentamento do Rio Juma — o maior projeto de reforma agrária do INCRA, que tinha como objetivo abrigar 7.500 famílias — agora retorna para cuidar de suas raízes. Muitos dessa nova geração saíram para estudar e hoje, por meio de suas diferentes áreas de especialização, formam a equipe multidisciplinar que sustenta o projeto do Centro de Agrofloresta e Observatório da Floresta. Esse diálogo e essa continuidade entre gerações são vitais para garantir que o projeto abarque tanto as experiências daqueles que chegaram há quarenta anos quanto a energia crítica dos que retornam com novos conhecimentos, a fim de construir não apenas um espaço físico, mas um território vivo de pesquisa, produção e cuidado socioambiental.
Adalberto, que voltou a Apuí para trabalhar no INCRA, compartilhou o registro que vêm compilando nos últimos oito meses: um levantamento socioeconômico e ocupacional na Gleba Juma, destinado a traçar o estado atual dos pequenos produtores em relação ao momento da implementação do assentamento em 1981. Esse estudo diagnóstico busca construir um retrato detalhado da situação fundiária, da produção e da realidade social, mapeando o que está sendo produzido, as dificuldades enfrentadas e as condições documentais dos produtores. O trabalho enfrenta desafios, entre eles a resistência gerada pelo contexto político polarizado do Brasil e os conflitos territoriais específicos dentro do que hoje é um dos principais pontos focais do chamado “arco do desmatamento”.
A continuidade do trabalho da segunda geração do assentamento do Rio Juma também se manifesta no papel de especialistas como Domingos, que traduz esse conhecimento em ações específicas de restauração ambiental. Domingos trabalha no Prevfogo, um programa do governo federal vinculado ao IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), que atua na prevenção de incêndios e na produção de mudas nativas, essencial para a reconstrução e preservação do solo fértil e da biodiversidade local. Durante nossa conversa, Domingos contou como tem observado a crescente gravidade dos incêndios, agravada pela estiagem prolongada e pelo desmatamento. “O fogo já é natural, mas desde que entrei no programa em 2008 percebo que nosso clima vem secando cada vez mais. O ano passado foi histórico, com o fogo chegando dentro da floresta, algo raro aqui, devido ao aumento do desmatamento e à redução da umidade.” Esse trabalho de prevenção, produção de mudas e combate ao fogo, aliado às práticas locais e à rede de pequenos produtores, demonstra o quanto é vital unir o conhecimento técnico e o tradicional para proteger e restaurar a floresta amazônica.
Shuely, uma jovem agricultora familiar, personifica a força do conhecimento empírico de uma nova geração que aprende diretamente com a terra e resiste diariamente às pressões do agronegócio. Como outros, ela busca apoio para conservar sua propriedade por meio de um plantio diverso que enriquece o solo, servindo tanto para subsistência quanto para geração de renda. Aprendeu na prática, no ritmo de tentativa e erro, a cultivar de forma mais sustentável. Shuely também compreende a importância vital de manter a floresta para conservar as fontes naturais de água. “Se não há água, não há vida; nada cresce.” Da mesma forma, Diomar, também agricultor, compartilhou o esforço de aprender sem apoio formal. Junto com Shuely, ele se envolveu em uma prática de observação, copiando modelos existentes e ajustando-os por meio de tentativa e erro para construir estufas capazes de resistir ao clima. Essa trajetória revela a determinação e a criatividade dos pequenos agricultores em construir suas próprias soluções, aprendendo fazendo, e fortalecendo a agricultura familiar na região.
Apuí também é moldada pelo conhecimento transmitido de geração em geração, pela paciente observação da natureza e pelo entrelaçamento das migrações. Até os quinze anos de idade, Darcy aprendeu com seu avô, um migrante alemão para o sul do Brasil no período entre guerras, a observar a natureza para o plantio, acompanhar o ciclo das árvores e produzir mudas. Seguindo o fluxo de deslocamentos que marcou a história recente da Amazônia, Darcy deixou Chapecó, em Santa Catarina, e migrou para Apuí há quarenta e dois anos. Hoje, aos setenta e seis anos, dedicou sua vida e seus recursos à produção de mudas nativas para reflorestamento. Todo o conhecimento que acumulou, fruto de décadas de observação minuciosa, ele agora compartilha com sua neta Tainara, engenheira agrônoma formada pela Universidade Federal do Amazonas em Humaitá, que dará continuidade ao cuidado com o viveiro de mudas no futuro.
Durante nossa conversa, Darcy descreveu de maneira precisa como as árvores anunciam as mudanças climáticas: a copaíba, que antes florescia em agosto e setembro, agora floresce em outubro e novembro. O jatobá também já não segue mais seu ritmo de antes. Ele explica que “as árvores precisam se defender”, e apenas aqueles que observam de perto percebem a mudança desses ciclos. Darcy mantém registros detalhados de oitenta e quatro espécies nativas, acompanhando a floração, a produção de sementes e a localização das árvores. Esse trabalho persistente e custoso resulta na produção de trinta mil mudas por ano, cultivadas em seu viveiro, um arquivo vivo de conhecimento ecológico. A experiência de Darcy, e a generosidade com que compartilha anos de trabalho, reforçam o poder da observação como ferramenta de conhecimento, cuidado e resistência diante das mudanças climáticas.
Raimundo trabalha com Darcy há vários anos. Ele nasceu em Nova Olinda e, quando se mudou para Apuí, percebeu um desequilíbrio ambiental diferente da comunidade ribeirinha onde cresceu: a terra na região não se regenerava. Raimundo nos guiou até uma árvore de copaíba e, diante dela, compartilhou sua experiência de extração do óleo, uma prática que exige paciência e cuidado. Explicou que o processo começa com a observação: “É preciso bater no tronco para ouvir o som. Se não tiver óleo, não adianta furar.” Só depois de identificar a árvore certa é que o extrator faz o furo, coleta o óleo e finalmente fecha o orifício com madeira para que a árvore possa se regenerar. “Se deixar escorrer sozinho, a árvore morre. Mas se você fechar, em três ou quatro meses ela volta a produzir óleo.”
Assim como Raimundo extrai o óleo de copaíba, Edmilson, que também se identifica como indígena, dedica-se à coleta do buriti, fruto de uma palmeira nativa dos biomas Amazônia e Cerrado. Essa palmeira pode alcançar mais de 30 metros de altura e cresce em áreas alagadas ou próximas a rios e igarapés, formando os chamados buritizais. Edmilson tem observado uma aceleração no desmatamento nos últimos vinte anos. Durante o tempo que passamos juntos, falou da dor que sente ao ver a floresta desaparecer, porque junto dela desaparece também o modo de vida na floresta. Ele se sente parte da floresta: quando ouve o canto de um pássaro ou bebe água limpa, isso o enche de força. Sendo parte da floresta, conhece tudo o que a habita: mutum, jacu, jacamim, azulona, nambu, onças, macacos, porcos-do-mato, antas. E, quando se trata das plantas encontradas ali, são incontáveis as medicinais, plantas capazes de milagres.
O pai de Edmilson trabalhou na construção da Rodovia Transamazônica entre 1972 e 1973. Durante a obra, equipes de vinte pessoas eram organizadas: enquanto alguns faziam a limpeza do terreno, outros abriam a estrada. Muitas pessoas adoeceram e morreram nesse processo. Naquele tempo, a região tinha poucos habitantes, mas hoje não há um metro quadrado de terra sem dono. Muito dessa terra já foi abandonada, mas ainda permanecem aqueles, como Edmilson, que continuam a viver no território.
Ao final da jornada, ao entrelaçar os relatos e experiências que compõem o sistema social de Apuí, compreendemos que o projeto do Centro Agroflorestal e Observatório da Floresta é, ao mesmo tempo, um projeto arquitetônico e um projeto de paisagem. Mais do que isso, é um exercício de revisitar pressupostos e definições convencionais do que significa “construir” uma floresta. O fundamento desse processo reside não apenas nas técnicas, mas também no trabalho social, ideológico e político que sustenta cada ato de plantar, preservar e resistir.
Ignorar as dimensões históricas, sociais e políticas que moldaram o estado atual desta terra seria permanecer na superfície; trazê-las à luz, porém, abre espaço para a invenção de novas ideias, arquiteturas e territórios. Como a arquitetura, entre muitos outros sistemas de conhecimento e representação, pode produzir natureza, dentro e para além de seu próprio campo disciplinar? Essa pergunta torna-se central na experiência de Apuí. Do ponto de vista metodológico, implica revisitar as diferentes formas de codificação, representação, cartografia, arquivamento e institucionalização do conhecimento que a própria arquitetura gera.
Ao longo da jornada, entendemos que observar não é apenas registrar, mas aprender com as pessoas, suas práticas, suas memórias e suas formas de imaginar o futuro. Nesse sentido, o Centro Agroflorestal e Observatório da Floresta não é apenas um projeto a ser desenhado, mas um território vivo em construção, feito de vozes, saberes e resistências que continuam a reinventar a floresta.